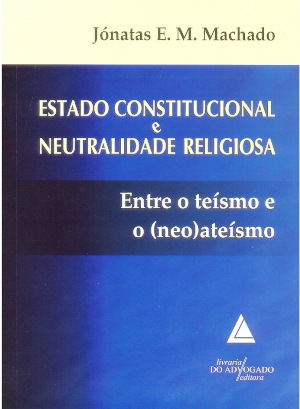
Jónatas E. M. Machado é Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, leciona Direito Internacional Público e Direito da União Européia. Em 1993, obteve o grau de Mestre com a tese intitulada Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Inclusiva. Em 2001, obteve o grau de Doutor, com a tese Liberdade de Expressão.
Em sua obra, Jónatas Machado defende que o Estado Constitucional, que aponta para a primazia normativa e a universalidade dos valores de dignidade, liberdade, igualdade, racionalidade, verdade, justiça e solidariedade, não pode ser desvinculada das pressuposições judaico-cristãs acerca da existência de um Deus pessoal, moral, racional, verdadeiro, justo e bom que criou o homem à sua imagem, dotando-o de valor intrínseco.
De acordo com Machado, se as pressuposições de base judaico-cristã forem verdadeiras, é possível deduzir, de forma racional e logicamente consistentes, os principais valores e princípios estruturantes do Estado Constitucional e a respectiva primazia e universidade. Se forem falsas, torna-se impossível proceder a essa dedução.
Um constitucionalismo naturalista e ateísta, por outro lado, ao remeter o ser humano e os seus valores, em última análise, para processos físicos e químicos aleatórios, amorais e irracionais, não consegue coerentemente oferecer o necessário fundamento moral e racional para os valores do Estado Constitucional e para as suas pretensões de primazia e universalidade.
Introdução (p. 13-18)
O autor destaca inicialmente que a neutralidade religiosa e ideológica do Estado Constitucional encontra-se associada ao princípio da separação das confissões religiosas do Estado e da sua independência recíproca, estabelecendo-se como corolário da liberdade de consciência, de pensamento e de religião, com o objetivo de promover a separação funcional e sistêmica entre os domínios político, religioso, econômico, científico e cultural, como compartimentos estanques.
Apesar disso, não é possível compreender o Estado Constitucional como uma entidade mundividencial e completamente neutra, notadamente em face da atual crise de valores, o ressurgimento da religião, o avanço do Islamismo no mundo e na Europa e também o secularismo militante que tem confrontado o Estado Constitucional com a necessidade de reexaminar as suas pressuposições e axiomas valorativos, daí porque o “princípio da laicidade ou na neutralidade do Estado não pode ser usado, por parte das autoridades públicas e dos tribunais, como escapatória para o não envolvimento em questões religiosas, ideológicas ou morais” (p. 16).
Capítulo 1
Emergência histórica do princípio da neutralidade religiosa (p. 19-26)
No capítulo 1, Emergência histórica do princípio da neutralidade religiosa, Machado analisa como foi compreendida historicamente a relação entre a religião e a comunidade política, enfatizando a Religião do Império: da Conversão de Constantino em 313 d.C. e a Queda do Império Romano até a Reforma Protestante do século XVI, período caracterizado pela relação entre a religião cristã e o Estado. Religião do Estado: época que pode ser associada a Thomas Hobbes, o qual entendia que a religião é uma questão essencialmente nacional, que deve ser resolvida pelo Monarca, e não pelo Papa ou o Imperador;Religião da sociedade civil: a partir da ideia de John Locke, a liberdade religiosa é vista como uma questão privada, relativamente à qual o Magistrado deve se abster de decidir. A religião surge como uma realidade da sociedade civil publicamente relevante, embora distinta do Estado. Neste período, “a laicização do Estado significa a democratização política e religiosa através de uma participação igualitária de todos os indivíduos na formação da vontade política e da doutrina religiosa” (p.22). A religião, portanto, pode ocupar o seu espaço púbico, porém, não de forma impositiva das autoridades políticas e religiosas, mas por meio da autonomia individual e o autogoverno democrático das comunidades. Por fim, a Religião íntima: período marcado pela Revolução Francesa, em que a religião institucionalizada tradicional é caracterizada como opressora do espírito humano e contrária ao pensamento iluminado pela razão, devendo por isso ser combatida por um sistema público de educação laica. Tem-se aí a instauração da laicidade de combate, hostil à religião, implicando a remoção das manifestações religiosas da esfera pública e a sua circunscrição à esfera privada, no seu domínio pessoal de decisão íntima.
O jurista e teólogo Hugo Grócio, no século XVII, procurou pensar os valores mesmo que Deus não existisse, vindo a influenciar a filosofia do racionalismo iluminista que muito contribuiu para o constitucionalismo moderno e para o princípio da neutralidade confessional do Estado. Contudo, atualmente subsiste certo equívoco em torno dos conceitos de neutralidade e laicidade do Estado, pelo que, embora a neutralidade pretendesse impedir a instrumentalização do poder político pelos poderes religiosos e ainda salvaguardar a pessoa não religiosa da presença esmagadora da religião e dos símbolos religiosos no espaço público, atualmente o excesso de zelo inverteu os fatores chegando a pressionar e coagir as pessoas com crenças religiosas no sentido da conformidade e do abandono de suas crenças. “Neste momento, as visões religiosas encontram-se a perder terreno no espaço público relativamente às perspectivas antirreligiosas, podendo gerar-se uma situação de desigualdade e assimetria que nada tem de religiosamente neutro” (p. 24). Com isso, a neutralidade tende a resvalar para a neutralização da religião.
Capítulo 2
Fundamentação Judaico-Cristã do Estado Constitucional (p. 27-58)
No capítulo dois o autor vai defender a impossibilidade de um Estado Constitucional completamente neutro, afinal, ele próprio (O Estado) parte de alguns valores preconcebidos que lhes serve de base. Com efeito, é possível afirmar que o Estado Constitucional não somente pressupõe a existência de Deus e a objetividade dos valores, como não é suscetível de justificação racional e moral se essa pressuposição for falsa. Mais do que isso, tal Estado repousa em pressuposições que somente um Deus entendido como um Ser racional, verdadeiro, justo, bom e onipresente pode garantir.
A fim de justificar essa assertiva, o autor observa que o Estado Constitucional baseia-se na “convicção da realidade de um conjunto de valores objetivos fundamentais, pré-políticos e pré-jurídicos, acima de todas as formas de poder, suscetíveis de serem reconhecidos como tais por todos os seres humanos” (p. 29), ideia essa que se adequa à pressuposição de um Criador racional.
Nesse mesmo sentido, a ideia dos direitos fundamentais, como a liberdade de consciência e de religião, a liberdade de expressão, o princípio da igualdade e o dever de solidariedade, baseia-se em valores intrinsecamente válidos, em um padrão de moralidade absoluta, imaterial, intemporal e universal, válido em todos os tempos e lugares.
O princípio da dignidade da pessoa humana parte do pressuposto de que o ser humano está ligada por laços familiares e afetivos, conceito esse que ganha guarida na Teologia Cristã. “Para a visão do mundo judaico-cristã, essa dignidade especial de ser criado à imagem e semelhança de Deus manifesta-se nas peculiares capacidades racionais, morais e emocionais do ser humano, na sua postura física ereta, na sua criatividade e na sua capacidade de articulação de pensamento e discurso simbólico, distinta de todos os animais, por mais notáveis que sejam suas características” (p.37). Por isso, a dignidade humana é um atributo universal, transcendente, que requer o reconhecimento de respeito e proteção a todos os indivíduos, respaldada por isso na teologia da imagem de Deus, onde o seu valor tem como base um significado moral que lhe foi atribuído pelo Criador.
Além disso, o Estado Constitucional parte do princípio de que o ser humano é dotado de uma competência moral e racional que o distingue dos animais e objetos, e a liberdade é entendida como um princípio de autonomia moral a exercer dentro dos limites da razão e de valores morais fundamentais. Tal pensamento, também possui o respaldo na cosmovisão judaico-cristã, para quem a razão humana é o reflexo da natureza racional de Deus.
O Estado Constitucional reconhece ainda a propensão do ser humano para a corrupção, e por isso devem ser estabelecidos limites e mecanismos de controle da sua atuação. Nenhum ser humano é infalível, razão pela qual não pode reclamar o poder absoluto ou uma liberdade absoluta, dando-se lugar ao governo limitado por direito fundamentais.
“O reconhecimento da legitimidade e da necessidade do combate à corrupção, ao arbítrio, à prepotência, à criminalidade, à poluição do ambiente, etc., está aí para demonstrar que o Estado Constitucional parte do princípio de que nem todos os comportamentos humanos são igualmente valiosos e legítimos. Uma das razões para a defesa da liberdade de expressão e informação, a nível interno e internacional, diz respeito à necessidade de controlar as patologias associadas ao exercício do poder nos vários domínios da vida social” (p. 43).
Dentro da concepção judaico-cristã, a queda no pecado e corrupção espiritual, física, intelectual e moral explicam a incapacidade humana universal de satisfazer integralmente as exigências morais, de modo que a consciência é em si mesma corruptível e encontra-se corrompida. Nessa senda, afirma-se que o Estado Constitucional reflete inteiramente princípios matriciais do pensamento judaico-cristão, tendo subjacente o reconhecimento de que a Imago Dei originária coexiste, hoje, com a propensão humana para a corrupção e perda do discernimento moral.
Igualdade, solidariedade e justiça social também estão na base do constitucionalismo moderno. Esses valores somente podem ser concebidos a partir da ideia de que todos os homens e mulheres são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. O Antigo Testamento destaca que a opressão contra os mais fracos era o atentado contra o próprio Deus, por isso não aceitava a exploração por parte das estruturas políticas, religiosas e econômicas dominantes. Em o Novo Testamento também vemos os ensinamentos de Cristo, enfatizando a necessidade de cuidar dos necessitados, dos estrangeiros e dos presos, a exemplo da parábola do Bom Samaritano.
O Estado Constitucional é também um Estado de verdade, assumindo que a veracidade e a confiança devem conformar, tanto quanto possível, todas as dimensões políticas e sociais, motivo pelo qual espera-se que a comunicação entre governantes e governados tenha na verdade o seu valor fundamental.
De acordo com Jónatas Machado: “Uma das finalidades da liberdade de expressão consiste justamente, na procurada da verdade em todos os domínios, como o político, o moral, o econômico, o científico ou o religioso, no respeito por dimensões nucleares dos direitos de personalidade” (p. 54). Tal perspectiva, segundo ele, adequa-se perfeitamente aos axiomas judaico-cristãos, visto que a exigência de verdade e racionalidade decorre lógica e racionalmente da natureza verdadeira e racional de Deus e das exigências que disso resultam para o ser humano.
Por fim, o autor vai destacar que a separação das confissões religiosas do Estado é resultado das célebres palavras de Jesus Cristo, proferidas sobre uma questão tributária, “daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. “Daí que a liberdade religiosa, individual e coletiva, tenha como corolário institucional o princípio da separação das confissões religiosas do Estado. Este visa, em primeira linha, prevenir a interferência dos poderes públicos nas escolhas da consciência individual e na autonomia doutrinal, cultual, ritual e institucional das confissões religiosas. Ele desempenha a função de garantia institucional de uma igual liberdade religiosa individual e coletiva” (p. 56).
Capítulo 3
Fundamentação ateísta e naturalista do Estado Constitucional? (p. 59-101)
No capítulo três o autor analisa se o pensamento ateísta e naturalista tem condições de fundamentar, a partir de seus postulados, o Estado Constitucional.
Para o naturalismo, assevera Machado, o Universo, a vida e o ser humano são o produto de processos cegos, irracionais, aleatórios, ineficientes e cruéis, destituídos de qualquer sentido, propósito e valor intrínseco, de modo que o cérebro e a mente teriam resultado da seleção natural. O que leva a concluir que a produção intelectual humana não passa de produto acidental, cujo resultado se mostra irracional e autocontraditório, na medida em que as próprias ideias naturalistas seriam o produto das leis da física e da química, não havendo uma forma objetiva e independente de atestar a sua veracidade.
“As conclusões naturalistas conduzem inevitavelmente a um beco sem saída epistemológico, em que nada nem ninguém pode garantir a racionalidade, a verdade e o conhecimento” (p. 64). Se assim o é, revela-se totalmente arbitrário e irracional pretender deduzir um hipotético dever de subordinação do Estado Constitucional a princípios de racionalidade, verdade, previsibilidade, proporcionalidade e eficácia, a partir de uma visão de mundo que postule que tudo tenha sido resultado de processos físicos e químicos irracionais, aleatórios, ineficientes e até cruéis.
Consequentemente, esse concepção coloca em risco a liberdade de consciência e as demais liberdades fundamentais, e até mesmo a própria objetividade e a universalidade da argumentação racional e do discurso jurídico, a revelar a precariedade e a futilidade da tentativa naturalista de fundamentar valores universais de dignidade, liberdade, igualdade e justiça na razão humana. Um acidente cósmico não pode fundamentar qualquer reivindicação de dignidade e reconhecimento relativamente a outro acidente cósmico, por mais inteligente que seja; uma visão naturalista do mundo não permite alicerçar qualquer distinção qualitativa entre os seres humanos e os animais. A despeito de suas capacidades diferenciadas, todos não passam, no fim de contas, do resultado acidental dos mesmos processos físicos e químicos aleatórios e irracionais.
“Se a visão naturalista e secularizada do mundo correspondesse à realidade, não haveria de fato qualquer fundamento moral ou racional para afirmar de fato a especial dignidade da pessoa humana. Todo o edifício dos direitos fundamentais que dela depende cairia por terra, por efeito dominó, como uma simples construção arbitrária, ilusória e imaginária” (p. 76).
Além disso, o autor ressalta que não faz sentido falar em livre arbítrio e responsabilidade moral e jurídica se os seres humanos são guiados apenas por reações químicas aleatórias ocorridas no seu cérebro. Mais uma vez o naturalismo coloca em risco a estrutura do direito penal, no qual não haveria lugar para a liberdade, a responsabilidade, a culpa e a justiça, tudo grandezas consideradas ilusórias dentro dessa concepção.
É impossível sustentar valores objetivos sem a existência de um Criador. Tais valores não podem ser o resultado da evolução do ser humano, posto que o processo de evolução que está na base da visão ateísta do mundo é por natureza imoral e irracional, não existindo nada no processo de evolução aleatória que determine, biologicamente, a primazia do valor moral da dignidade e da igualdade dos membros da espécie humana.
Os valores também não podem ser simples autocriação normativa, cabendo aos indivíduos e às sociedades procurar livremente o seu próprio sentido de moralidade e conformar a vida social de acordo com ele. Isso porque, também neste entendimento os valores seriam expressões do livre curso dos sentimentos e dos paladares dos indivíduos, de modo que nada obrigaria sequer a qualquer tentativa de universalização dos valores morais. Com efeito, nenhum ser humano poderia, por exemplo, dizer que os outros estão certos ou errados se tiverem valores diametralmente opostos. Ninguém poderia criticar Hitler, Stalin ou Pol Pot por terem valores à luz dos quais o homicídio ou o genocídio surgiram como totalmente aceitáveis.
Alguns ainda podem dizer que os valores são o produto das vicissitudes políticas, jurídicas, culturais e sociais culturalmente adotados pela primazia normativa, no decurso histórico. Essa alternativa também não se sustenta. Ela ignora a objetividade e a transcendência dos valores ínsitos na sua natureza, e mostra-se incapaz de validar a subordinação dos Estados aos direitos humanos e aos valores e princípios universais, sem ou mesmo contra o seu consentimento, defendida por alguma vozes desde a antiguidade e incorporada pelo direito internacional contemporâneo.
“Se os processos históricos e culturais é que legitimam as normas jurídicas dentro de uma comunidade, então os valores da escravatura, da subordinação das mulheres, do tráficos das mulheres, crianças e órfãos, do genocídio, do terrorismo suicida, do tráfico de drogas, da corrupção nos sistemas político, econômico ou financeiro, etc., teriam que ser considerados moralmente bons sempre que fossem o resultado do processo histórico, sendo que mesmo são sempre o resultado do processo histórico (p. 95).
Igualmente insustentável é a afirmação de que os valores são entidades da intuição ou dos sentimentos e emoções. Tal perspectiva não permite demonstrar a existência dos valores ou explicar devidamente a relação que eles estabelecem com os seres humanos, nem conseguem justificar qualquer reivindicação de prioridade normativas daqueles sobre estes.
Tudo isso demonstra a dificuldade em fundamentar a primazia dos valores do Estado Constitucional à margem de um fundamento transcendente da natureza teísta. Assim, “um constitucionalista agnóstico ou ateu não conseguiria justificar racional e logicamente a partir de sua visão secularizada, naturalista e ateísta do mundo assente unicamente em processos naturais amorais, irracionais e aleatórios, a primazia moral e a validade universal dos valores no Estado Constitucional. Das duas uma: ou ele procede à afirmação intuitiva e arbitrária dessa primazia, ou tem que ir pedir emprestadas as necessárias premissas morais outra visão de mundo que não a sua” (p. 101).
Capítulo 4
Fundamentação científica do Estado Constitucional? (p. 103-121)
Neste capítulo, o autor ressalta que, apesar das incoerências e fragilidade do pensamento naturalista, há quem entenda que somente essa visão de mundo é suportada pela ciência moderna. Por isso, seria um enorme retrocesso recuperar a fundamentação judaico-cristã do Estado Constitucional, pois isso seria regressar à pré-modernidade e abdicar da racionalidade e do pensamento científico.
Entretanto, Jónatas Machado destaca que o ateísmo não consegue fornecer uma base racional para a ciência moderna, visto que a própria possibilidade da razão, da ciência e do conhecimento científico pressupõe uma racionalidade inerente ao Universo, à vida e ao ser humano, a qual só tem sentido em uma visão de mundo que postule a criação racional de todas as coisas; ou seja, a visão judaico-cristã.
“Uma visão naturalista do Universo, da vida e do homem, assente exclusivamente na irracionalidade e aleatoriedade de processos físicos, químicos, genéticos, biológico e neurológicos, não consegue fornecer qualquer fundamento racional para a crença na inteligibilidade do cosmos e na capacidade racional, lógica e científica do ser humano para estudar e compreender” (p. 105).
A ciência e o conhecimento científico, para serem possíveis, dependem da prévia aceitação de um quadro de pressuposições que estabeleça a racionalidade do Universo, a capacidade racional e lógica do ser humano e a natureza imaterial e invariável das leis da lógica. Mas vale dizer, este quadro somente pode ser aceito pela fé, antes mesmo de qualquer investigação científica.
Os postulados de racionalidade e capacidade racional do ser humano são estabelecidos na Bíblia, de forma que os axiomas de que a ciência depende são estabelecidos pela visão de mundo judaico-cristã e não pelo naturalismo.
Além disso, a ciência está muito longe de ser neutra e objetiva, afinal os cientistas são diretamente influenciados no seu trabalho pelas suas próprias visões de mundo, religiosas ou naturalistas, e pela estrutura conceitual que delas deriva. Esse aspecto tem grandes implicações no Estado Constitucional, diante daqueles que pretendem apelar à ciência para limitar a democracia e restringir direitos fundamentais, como as liberdades de consciência, religião, pensamento ou expressão.
A objetividade científica é substancialmente reduzida quando os cientistas se afastam das observações e experiências em si mesmas e passam para a construção de inferências, extrapolações, modelos e teorias acerca do que terá sucedido a origem do Universo. Daí que “uma atitude intelectualmente crítica não pode deixar de perceber a diferença entre as observações científicas em si mesmas e as visões do mundo e pressuposições que são utilizadas pelos cientistas na sua interpretação. A confusão entre afirmações filosóficas e cientificas pode afetar, em maior ou menor medida, todas as disciplinas cientificas” (p. 110).
Ao contrário do pensamento ateísta, as observações científicas mostram-nos que a vida simplesmente não surge por acaso. A lei da biogênese diz-nos que em todos os casos observados a vida vem sempre da vida preexistente. Nesse sentido, há razões científicas muito fortes para sustentar a origem inteligente e sobrenatural da vida tal como defendido pela visão judaico-cristã do mundo, com base na teoria da informação, pela qual a vida depende de códigos e de informação codificada. Não existe nenhum caso de que a informação codificada que tenha surgido sem uma origem inteligente.
“À semelhança do que sucede com as maravilhas tecnológicas e criação humana, a vida depende essencialmente de um conjunto de programas de software, contendo todas as instruções cooperativas necessárias para a produção, adaptação, e sobrevivência dos diferentes seres vivos” (p. 111). A informação, que não existe no mundo físico ou material, mas no mundo mental e intelectual, refuta completamente a visão naturalista, que se baseia eminentemente na matéria, demonstrando que a energia e a massa não tudo o que existe.
Capítulo 5
Implicações para o princípio da neutralidade (p. 123-172)
Neste capítulo final, Jónatas vai demonstrar então que somente a visão de mundo judaico-cristã tem a possibilidade de fundamentar o Estado Constitucional, a partir da ideia da origem transcendental dos direitos humanos fundamentais, restando ao naturalismo somente a possibilidade de pegar carona com os valores de tal tradição.
As discussões tratadas no decorrer do livro repercutem no princípio da neutralidade religiosa e mundividencial do Estado Constitucional. O fato desse Estado se assentar em determinado valores fundamentais impossibilita que se possa falar em uma verdadeira neutralidade ética. Daí que “o princípio da laicidade e da separação das confissões religiosas do Estado está longe de pressupor a morte de Deus ou a sua total irrelevância na esfera pública e no direito constitucional” (p. 124), visto que tal Estado somente terá sentido a partir dos pressupostos teístas.
Nem mesmo as concepções seculares de neutralidade conseguiram se isentar dos valores judaico-cristãos. Nesse sentido, veja-se a teoria da justiça de John Rawls, que procura deduzir a neutralidade por deliberação racional entre indivíduos iguais a partir de uma posição original, por trás de um hipotético véu de ignorância. Nessa situação, as pessoas estariam em situação de igualdade, sem serem influencias pelos fatores que contribuem para a falibilidade do uso da razão da consciência.
Dentro dessa teoria, o direito à liberdade religiosa e ideológica, a par do princípio da neutralidade religiosa ou ideologia, seria a escolha mais razoável de pessoas iguais e razoáveis colocadas numa posição original em que ignorassem, se no mundo real, seria religiosos ou não, qual a religião a que pertenceriam ou se pertenceriam a uma religião maioritária ou minoritária, deduzindo assim uma estrita obrigação de não interferência na vida interna das confissões religiosas a par de uma proibição de discriminação entre confissões religiosas, nos limites do liberalismo político.
Para tanto, sustentam a edificação de uma razão pública alicerçada em princípios liberais e secularizados e racionalizados de justificação pública da atuação dos poderes político, legislativo, administrativo e judicial do Estado; de modo que a religião sempre seria aferida e filtrada pela razão pública, por meio de uma deliberação racional, mesmo que não pudessem ser considerados verdadeiros ou corretos do ponto de vista moral.
Com efeito, “a neutralidade religiosa e mundividencial da justificação da ação do Estado surge aqui como opção de distanciamento. Esta tornaria inadmissível qual apoio direto ou indireto à religião ou a uma confissão religiosa, ainda que dominante no seio da comunidade política, incluindo qualquer identificação simbólica do Estado com esta. Por exemplo, a presença de crucifixos é entendida, a esta luz, como claramente inconstitucional por violar a neutralidade religiosa e mundividencial do Estado e ser dificilmente compatível com a liberdade religiosa das crianças não católicas” (p. 128).
Desse modo, o liberalismo constrói privilégios epistêmicos a favor das visões secularizadas do mundo, expulsando os valores e argumentos religiosos do espaço público e do processo democrático de formação da opinião pública e da vontade política, principalmente porque os valores defendidos pela religião são facilmente identificáveis pela sua expressão doutrinal, ritual e institucional, ao contrário de outras visões de mundo.
“A ideia de que os argumentos religiosos não são racionalmente inteligíveis ou que se apresentem hostis ao compromisso é baseada numa visão limitada e até caricatural da religião, que ignora a estrutura racional e fundamentada de muitos dos argumentos religiosos, em nada distinta de outros argumentos baseados em visões de mundo e pressuposições não estritamente religiosos” (p. 129).
Ocorre que a própria teoria da justiça não consegue um fundamento secularizado, empírico e logicamente plausível, para si mesma, capaz de embasar a primazia da razão, da autonomia moral, da igual dignidade e da justiça, mesmo na posição original de ignorância em que se alicerça. Na verdade, ela toma emprestada da visão de mundo judaico-cristã os seus valores fundantes, a exemplo do princípio da justiça, que deve ser procurado num plano transcendental, anterior e superior à concreta experiência humana, como se fossem eterno e sobrenaturais. Portanto, nem mesmo a teoria da justiça é neutra.
Outra concepção que também não se sustenta é a neutralidade do Estado com base na identidade cultural. Como mostra o exemplo da Alemanha nazista, o apelo à identidade cultural de um povo é uma grandeza necessariamente vaga, dinâmica e manipulável para que se possa usar como fundamento de valores e normas morais e jurídicas. Pode, ainda, ser usada não apenas para justificar a violação de dimensões essenciais dos direitos das minorias, mas até para fundamentar práticas consideradas por muitos como moralmente tenebrosas. Além disso, há o perigo de leituras seletivas e parciais da história e da identidade cultural, de acordo com uma determinada intenção.
Para além desses fatores, a dependência a identidade cultural dos povos ainda dissolve qualquer pretensão de objetividade, primazia e universalidade, igualdade verdade e justiça, esquecendo que todo o direito internacional pretende promover os valores como universais, contrafáticos e contraculturais. E, por fim, “se os valores são dignos de proteção apenas por fazerem parte da identidade cultural dos povos, então teríamos que aceitar como igualmente bons e dignos de respeito e consideração todos os valores, religiosos ou seculares, desde que sejam reconduzidos à identidade cultural dos diferentes povos, por mais contraditórios que possam ser entre si” (p. 136).
Desse modo, é possível assegurar que o Estado Constitucional não pode pretender ser eticamente neutro, na medida em que os valores da dignidade, igualdade, liberdade responsabilidade, democracia, separação dos poderes, verdades, racionalidade, justiça e solidariedade são valores positivos, no sentido de que supõem uma tomada de posição moral e ética. E tais valores, como já afirmado, deduzem das principais afirmações da tradição judaico-cristã, não podendo ser justificados, com igual racionalidade e consistência, a partir de outras visões de mundo, religiosas ou seculares.
Nessa linha, a esfera do discurso público deve ser aberta à competição espiritual entre visões de mundo religiosas e não religiosas, tornando possível aferir, inclusivamente, da respectiva capacidade de fundamentar a própria racionalidade e moralidade humana. Mais do que isso: A existência de Deus é uma possibilidade plenamente integrada na razão pública de um Estado cujos valores se deduzem de premissas teístas.
Tudo isso nos leva às seguintes implicações:
Reconhecimento da matriz teísta do Estado Constitucional: O Estado encontra o fundamento, o sentido e os limites de sua atuação em valores morais transcendentes, e por isso a neutralidade não pode ser usado para promover a hostilidade da religião.
Liberdade religiosa negativa e positiva: O Estado não pode interferir nas decisões de fé individual e no cumprimento das obrigações religiosas assumidas de forma livre e esclarecida pelas pessoas, sendo legítimo também ao Estado apoiar iniciativas religiosas e não religiosas que pretendam repercutir-se positivamente na realização de tarefas de interesse social;
Princípio da igualdade material: Não cabe ao Estado, por exemplo, garantir a prática de religiões que defendam práticas que se revelem contrárias à primazia dos valores da dignidade humana. Desse modo, não há falar-se em igualdade material entre visões de mundo. Se o fizesse, o Estado Constitucional comprometeria os seus próprios fundamentos.
Não identificação religiosa e ideológica: A neutralidade religiosa e ideológica do Estado tem como corolário o dever de não identificação dos poderes públicos com esta ou aquela organização religiosa, o que não inviabiliza, porém, uma preferência normativa no sentido de abertura do Estado à religião dos cidadãos e sua colaboração pública.
Esfera do discurso público e razão pública: O princípio da neutralidade religiosa e ideológica do Estado Constitucional é incompatível com a consideração da religião unicamente como um fenômeno irracional, privado, individual, íntimo, ultrapassado, estranho e extrassocial; e muito menos com a tentativa de remoção da religião da esfera do discurso público.
“A esfera de discurso público abre-se ao confronto dialógico entre diferentes visões de mundo no mercado livre e aberto das ideias, mostrando-se relapsa a todas as tentativas religiosas ou secularizadas de impedir ou travar a confrontação espiritual, ideológica e intelectual, invocando para isso categorias vagas, arbitrárias e intencionalmente censórias, como sejam blasfêmias, islamofobia, difamação da religião, teofobia, homofobia, religião como abuso, religião como vírus, religião como negação da história etc., para tentar criminalizar e silenciar a crítica e os críticos” (p. 154).
Debate em torno da origem do Universo, da vida e dos valores: Do ponto de vista do Estado Constitucional, é irracional promover como única alternativa um visão naturalista, atomista e evolucionista do mundo, que exclua à partida a investigação de evidências de design inteligente no Universo e a investigação cientifica, histórica e filosófica do sentido profundo da origem, do sentido, da dignidade e do destino da existência humana.
Objetividade e universidade dos valores: Os valores que conforma o Estado Constitucional não podem ser deduzidos de premissas ateístas e naturalistas, em última instancia relativistas, sob pena de autocontradição. Os valores constitucionais são objetivos e universais, de base judaico-cristã.
Portanto, uma Estado Constitucional só pode ser racionalmente sustentado a partir de um constitucionalismo teísta, não teocrático nem secularizado, indexado às afirmações morais fundamentais da matriz judaico-cristã.
por Valmir Nascimento Milomem Santos


